Autoria: Filósofo e Poeta Sábio
Há crimes que matam corpos, e há crimes que matam futuros. Entre estes últimos está o homicídio de crianças e menores cometido por quem lhes devia ser o primeiro abrigo: os progenitores. Não falo apenas do acto brutal de tirar a vida, mas da lógica que o envolve, da linguagem que o justifica e do silêncio que o protege. Porque onde há justificação para matar um filho, há uma sociedade a aprender que a violência é argumento e que o amor é frágil como papel molhado.
Num bairro qualquer, num país qualquer, uma criança aprende a andar e aprende a falar. Aprende também, sem saber, a observar. Vê o pai gritar, a mãe chorar, o vizinho bater, a polícia passar, o tribunal calar-se. Aprende que a força resolve, que a dor explica, que a morte se desculpa. E quando essa criança é morta, o que morre não é apenas um corpo pequeno: morre uma ideia de humanidade.
Dizem alguns: “Ele estava doente.”
Dizem outros: “Ela não aguentava mais.”
Dizem ainda: “Foi desespero.”
Mas desde quando o desespero virou sentença de morte? Desde quando o sofrimento dá direito de execução? O sofrimento pede cuidado, não cadáveres. A dor pede escuta, não covas. A miséria pede justiça, não absolvição moral.
O que mais inquieta não é apenas o acto do progenitor que mata. É o sistema que aprende a justificar. É a instituição que aprende a relativizar. É a advocacia que aprende a defender sem questionar. É a justiça que aprende a atrasar até que a memória pública se canse. Assim se constrói a pedagogia da barbárie: não por discursos de ódio, mas por omissões de coragem.
O tribunal que cala ensina.
O advogado que só tecnifica ensina.
O Estado que não previne ensina.
A sociedade que normaliza ensina.
Ensina que a criança é descartável. Ensina que o adulto tem sempre razão. Ensina que matar pode ser compreendido. Ensina que a vida é negociável.
E quando se ensina isso, as gerações futuras não aprendem a dialogar: aprendem a golpear. Não aprendem a argumentar: aprendem a ferir. Não aprendem a pedir ajuda: aprendem a eliminar o problema. A violência deixa de ser desvio e passa a ser método.
Há uma perversão subtil nesta normalização: ela troca a ética pela psicologia, a responsabilidade pela pena, o julgamento pela compaixão mal orientada. Não se trata de negar contextos sociais, pobreza, traumas ou doenças. Trata-se de afirmar um limite: há actos que não podem ser justificados sem destruir a própria ideia de justiça.
Se tudo se explica, tudo se desculpa.
Se tudo se desculpa, tudo se repete.
E assim, o homicídio de menores deixa de ser tragédia para ser estatística; deixa de ser clamor para ser rotina; deixa de ser escândalo para ser rodapé de jornal. E uma sociedade que aceita isso começa a apodrecer por dentro, como fruta bonita por fora e podre no centro.
Pergunto: onde estão as instituições quando a infância é assassinada? Onde está a advocacia como consciência crítica e não apenas como técnica? Onde está a justiça como farol e não como sombra? Onde está a palavra firme que diga: não se mata um filho — nem por dor, nem por pobreza, nem por loucura sem tratamento, nem por abandono social?
Porque quando o Estado falha em proteger a criança, ele autoriza simbolicamente o agressor. E quando o agressor é compreendido sem ser responsabilizado, ele se transforma em precedente. E o precedente vira cultura.
Uma cultura onde tirar a vida do outro se torna acto explicável.
Uma cultura onde matar deixa de ser crime absoluto e passa a ser “caso complexo”.
Uma cultura onde a infância não é sagrada, é vulnerável.
Escrevo isto como quem escreve numa parede depois de um incêndio: para que alguém veja que ali houve gente. Que ali houve vida. Que ali houve criança. Porque cada menor morto é uma pergunta sem resposta: que tipo de mundo permite que os seus próprios futuros sejam enterrados pelas mãos que os criaram?
A justiça que não fala ensina a matar.
A advocacia que não denuncia ensina a matar.
A sociedade que se cala ensina a matar.
E quando ensinar a matar se torna hábito, já não há lei suficiente para conter o ódio aprendido em casa.
Não é apenas uma questão jurídica. É uma questão moral. E a moral não se constrói só com códigos, mas com coragem. Coragem de dizer que há actos imperdoáveis. Coragem de defender a vida mesmo quando é pequena, pobre e sem voz. Coragem de romper com a lógica do “coitado” quando há um cadáver infantil no chão.
Se queremos uma geração que dialogue, temos de parar de justificar quem mata.
Se queremos uma geração que construa, temos de parar de normalizar quem destrói.
Se queremos futuro, temos de proteger a infância como valor absoluto.
A criança não é pertença do pai nem da mãe. É pertença da humanidade.
E quem mata um filho não mata só um ser: mata um símbolo de continuidade.
Enquanto houver silêncio institucional, haverá gritos invisíveis.
Enquanto houver justificações morais, haverá sepulturas precoces.
Enquanto houver normalização, haverá repetição.
Que este texto seja uma pedra atirada ao lago da indiferença.
Que provoque ondas.
Que irrite consciências.
Que incomode tribunais.
Que desafie advogados.
Que perturbe a paz falsa de quem acha que isto é apenas mais um caso.
Porque não é.
É o retrato de uma sociedade a decidir se ainda acredita na vida ou se já aceitou a morte como argumento.
E uma sociedade que aceita a morte como argumento já perdeu a discussão consigo mesma.


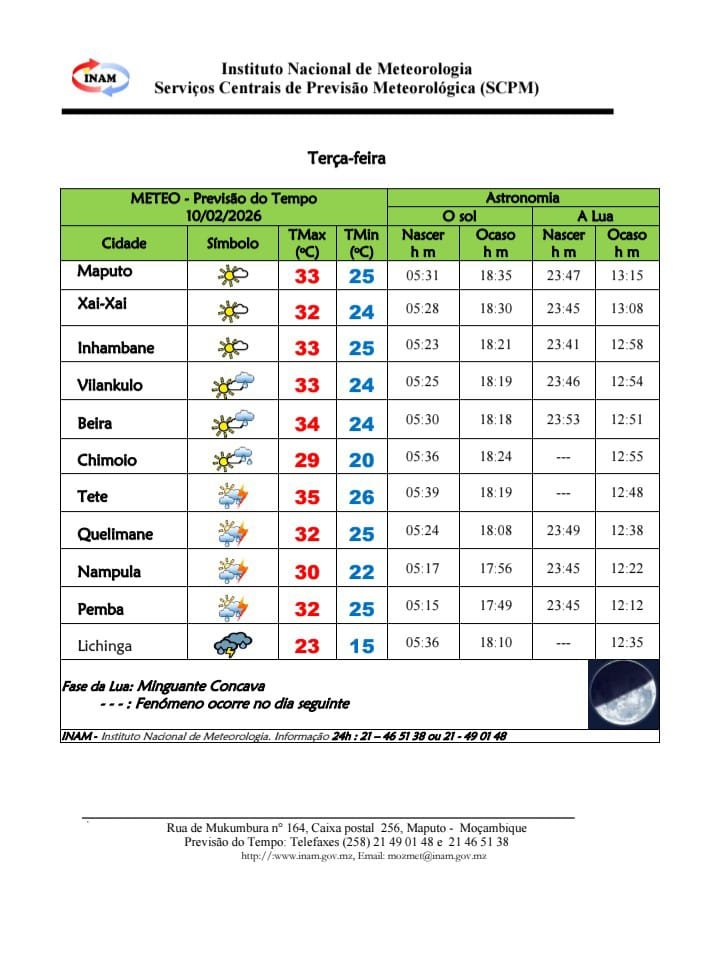






![Zhumabekov motions to a small piece of the Kiswa, the black cloth that covers the Kaaba in Mecca, which has been framed and put in a display cabinet, Lviv, Ukraine, January 29 2026 [Nils Adler/Al Jazeera]](https://horacertanews.com/wp-content/uploads/2026/02/From-Crimea-to-Cameroon-Ukraines-minorities-reflect-on-life-during-war-300x200.jpg)





